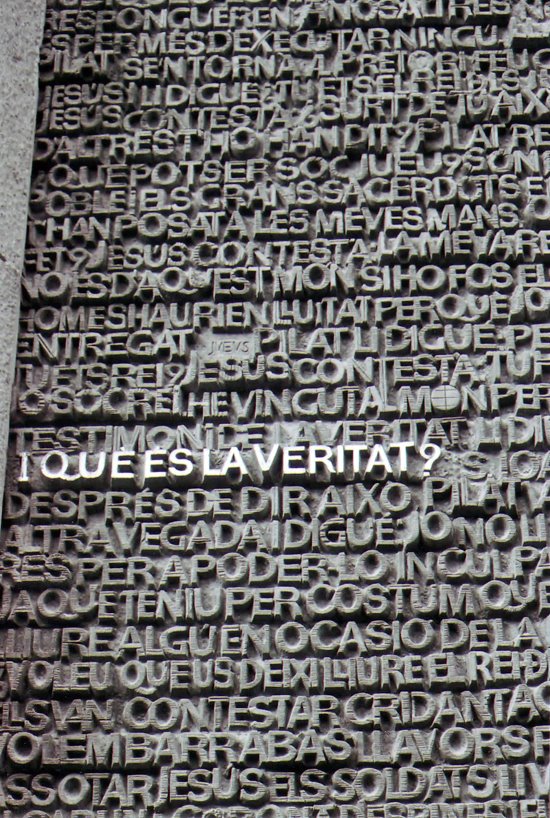Imagens do demo VIII
segunda-feira, agosto 21, 2006 at 22:20 Labels: { Imagens do demo } {0 comments}
Há-de vir o dia
terça-feira, agosto 15, 2006 at 17:19 Labels: { Ironias } {0 comments}
Há-de vir o dia. Tu entrarás de forma cansada, curvada sobre o calor lá fora, enquanto os pássaros regurgitam o Verão. A casa fria, uma brisa infiltra-se na cozinha, folhas espreitam nas janelas desinteressadamente. Virá o dia em que não mais partilhamos as dores do mundo e o egoísmo vence, penhoradamente, sobre a noite, com pó em fundo, em jeito de lamento doce, sobre tudo. Tu entrarás concomitantemente à espera, e a temperatura acolhe-te como uma língua, breve, levemente empoleirada no tempo, a ruminar avatares de humilhação. A mala rapidamente esquecida depois do início, um vapor que se imagina criado há minutos, a máquina de lavar como um monstro velho à beira da morte arrastando-se um pouco ainda, um copo singularmente junto mas não perto do canto da mesa, um precipício evitado mas consciente, uma gota seca. Há-de vir o dia em que a criança que nunca quiseste se apodera da potência e imagina-se, finalmente, longe, deixando-te envelhecer nos fins de tarde, como as pontes, ou mesmo os pelos que se agarram às cordas dos instrumentos, de tampa fechada sobre o voo. Entrarás e tudo se sublima nos passos na escada, a dura pausa, e depois um restolhar de presença na engrenagem da porta. Virá o dia e não mais o cansaço te impede de entrar, olhar em volta para não cair em passos perdidos, reconhecer o imaginário das flores secas ao fundo, e manter o silêncio sólido da ternura.
Das mulheres miniatura
sexta-feira, agosto 11, 2006 at 15:53 Labels: { Das mulheres } {0 comments}
As mulheres miniatura são uma exclusividade de poucos países. No caso português, aqui mais em foco, partem da frase mítica que “a mulher quer-se pequenina como a sardinha”. E não, enganam-se os que pensam que isto tem a ver com a altura do espécimen. É muito mais do que isso. Ora. A mulher miniatura é algo que, sendo invulgar, é vulgar. A mulher miniatura tem tudo pequenino: não mais de um metro e cinquenta e seis centímetros, um dedo indicador com quatro centímetros de comprimento e apenas pele à volta das falanges, falanginhas e falangetas, uns seios elípticos colados ao peito que não ganham peso por si e se mantêm eternamente em posição militar, uns pés que procuram sapatos em lojas para crianças, um rabo que não evoluiu desde os doze anos, quatro costelas laterais direitas que insistem em pronunciar-se quando deitadas, sejam gordas ou magras, umas pestanas que gritam por atenção matinal como um girassol em Dezembro, um queixo pontiagudo que, perto da mão de um homem, se assemelha de forma incrível a uma amostra de perfume dada na rua por uma promotora solícita. As mulheres miniatura são seres que pararam na escala de evolução e estão geneticamente condenadas a uma reduzida dimensão global, em que tudo é pequenino. São bonecas que não foram substituídas pela Barbie e permanecem em total funcionamento no mundo moderno, mesmo quando este está em total funcionamento adaptado para mulheres-gajas (um dia falarei sobre estas). Às mulheres miniatura estão vedadas algumas actividades, como carregar o sofá comprado no Ikea para o carro (porque nem os dedos nem os braços conseguem segurá-lo, de qualquer ângulo) ou pendurar roupa num corda num campo do Tennessee onde o vento passa e os lençóis sopram (ou o vento sopra e os lençóis passam). Em contrapartida, estão especialmente fadadas para trabalhar em lojas de roupa (a Zara é um bom exemplo) ou terem a sua própria papelaria, se tiverem mais de 40 anos, ou menos mas usarem chinelos de forma continuada e tiverem dois filhos “nascidos e criados no bairro”. Normalmente estas papelarias, que também vendem módulos da Carris, situam-se na Pontinha, em Moscavide ou na Rinchoa, se bem que a localização não é exclusiva. As mulheres miniatura, independentemente do estrato social, nunca têm voz grossa mas podem endurecer o queixo de forma laminar, colocando um homem no seu devido lugar, isto é, no de paspalho que a atura. O pequenino corpo endurece-se e todas elas parecem firmes e hirtas, prontas a atacar com verborreia quem se atravesse no caminho do seu fornecedor de lápis número dois. As mulheres miniatura nunca conseguem ser seres ternos, caindo eternamente no terreno lamacento da pieguice ou da idiotice. Foneticamente, podemos associá-las às palavras “pipoquinha”, “soquete” ou mesmo “carrapito”, termos praticamente exclusivos em termos de utilização da sua parte. Ao contrário do natural, quando envelhecem tornam-se aquilo que se denomina “velha seca”, isto é, uma idosa pequenina e sem gorduras, mas com enormes problemas de força e que fala insistentemente nos namorados que teve antes dos 22 anos, altura em que conheceu o Joaquim. Como miniaturas, atraem com facilidade o género masculino, que fantasia em manobrá-las entre os dedos como uma moeda ou acredita serem mais acrobáticas nos assuntos de cama e, logo, capazes de posições nunca antes vistas acima do paralelo 36. Como mulheres, ainda que miniatura, elas andam aí.
Frases demasiado boas para existirem VI
at 15:53 Labels: { Frases demasiado boas para existirem } {0 comments}
“Sei que esta visão há-de durar pelo menos quatro segundos, durante os quais não penso. Apenas sigo esta aflitiva paródia de qualquer coisa de que perdi a memória. Mas sei que existe. Funciona como a noção de uma origem.”
Mafalda Ivo Cruz, Oz, D. Quixote, pag. 42
Roma Publications
at 15:52 Labels: { Literatura } {0 comments}
Acaba dia 27 de Agosto a oportunidade de contacto mais efectivo com as Roma Publications, na Culturgest. Movimento de criação e divulgação literária e artística criado por Mark Manders e Roger Willems, as Roma são um pouco a actualização contemporânea do trabalho gráfico/literário dos surrealistas do século XX. A ideia é, basicamente, produzir e divulgar, sem intenções comerciais assumidas, pequenas obras (texto, desenho, fotografia) que se configuram como produções artísticas com um público-alvo indefinido e ligação umbilical a um urbanismo norte-europeu que se quer interventivo. São, na prática, livros. Mas são, sobretudo, propostas de arte com o intuito de provocar estranheza, mais do que estética. Longe do circuito clássico de poetas, regidos por publicação periódica e consequente crítica, as Roma buscam nomes desconhecidos para projectos de experimentação, numa tentativa de intervenção sobre o urbano sem constrangimentos. Muitos dos livros são de distribuição gratuita com suplementos de jornais e não pretendem ser auto-explicativos. Estão ali, existem. Um pouco à semelhança do movimento surrealista português, com Cesariny à cabeça, que nunca quiz ceder à lógica comunista vigente nos trabalhos de Breton e seguidores. A ideia é, como era, incomodar, aparecer, experimentar. Diferenças na forma, semelhanças na atitude. As Roma, são, assim, uma tentativa de recuperação artística semi-pura, que parte dos que têm as ideias e não por convite do establishment, que aposta nos desconhecidos em vez de recorrer aos do circuito. E não há pudores de comércio nem elitização de atitudes: a arte ao povo, de forma massiva, o mais massiva possível. Claro que o povo já não é “povo”, é antes público disseminado e alvo de milhares de solicitações perceptivas, pelo que a captação de atenção pela estranheza e não pela explicação é determinante. Ora, e como se faz uma exposição sobre livros? Expõem-se os livros, sim, claro, mas mais do que isso inverte-se o circuito de produção. Em vez de livros criados a apontar a artes, temos artes disparadas a partir dos livros. Na Culturgest estão, assim, esculturas, fotografias e ambientes que surgem dos livros onde foram inicialmente enclausurados. Despegando-se do suporte papel onde assumiram a sua forma inicial, acabam por cumprir-se enquanto atitude de proactividade artística, mais do que tudo. Provando, de forma clara, que o cruzamento performativo a que almejavam no início é o resultado que têm no fim, sem se desdenharem no meio caminho.
Frases demasiado boas para existirem V
at 15:51 Labels: { Frases demasiado boas para existirem } {0 comments}
“Houve um dia em que compreendi que as árvores, por exemplo, me desprezam infinitamente. São como uma velha nobreza que sobreviveu a avatares humilhantes e já só pode existir reduzida no seu antigo poder de morte, de magnificiência. Estão ali. E quando lhes passo por baixo dizem-me que hei-de acabar num hospício.”
Mafalda Ivo Cruz, Oz, D. Quixote, pag. 27
Fundação
at 15:51 Labels: { Arte } {0 comments}
Dezenas de estantes de ferro, de arquivo antigo, aguardam umas ao lado das outras. Logo a seguir uma estranha construção de tijolos, unidos toscamente por cimento, parece resultar numas ruínas construídas à pressa. Ao fundo, à direita, cinco homens controlam a colocação de mais um pilar de ferro, que um sexto operário se esforça por unir com um maçarico. Afastado, meio pensativo, Pedro Cabrita Reis olha para a cena com descontracção. Acabada a fusão da estrutura, Cabrita Reis caminha até ao início da sala, olha de longe as vigas alinhadas e diz “muito bem, é isso mesmo”. Baixando o tom de voz, indica a um encarregado que “agora vamos colocar mais seis atrás, mas alinhadas pela do meio”. A Fundação Calouste Gulbenkian, por ordem de aniversário, pediu ao criador um trabalho em desenvolvimento aberto, e aberto ao público. O CAMJAP foi destituído de conteúdo e abriu-se como grande sala à cabeça de Cabrita, que diariamente vai olhando para a estrutura e decidindo em conformidade. Será assim até finais de Setembro, e nem ele mesmo sabe bem qual será o resultado. A obra cresce como uma medusa de cabelos ao vento, e aberta a quem passa. Um casal de idade, que certamente vê tudo o que surge no CAMJAP porque é “a Gulbenkian”, passa e remoi entre dentes que “têm isto aberto com obras”. Dois turistas gozam de forma discreta com o homem gordo ao fundo, que não sabe bem o que quer. Cabrita olha longamente as pessoas, sem se perceber incómodo ou satisfação, ou mesmo indiferença. Cinco minutos depois e uma pausa, todos os operários se refrescam com uma “mini”. Cabrita conversa com um fotógrafo explicando o que vão fazer a seguir, gesticula. Uns instantes e dá uns passos para verificar um ângulo, e regressa à explicação. O fotógrafo olha os pilares a tentar visualizar o mesmo que o criador. Quem passa para a exposição de Craigie Horsfield olha de soslaio quer para a obra quer para mim, como se fosse um curioso a tentar perceber o que não se deve perceber, o CAMJAP em obras. É, sobretudo, o CAMJAP em obra, no singular, e merece um tempo sentado num degrau a ouvir e a ver. Mais do que a visitar depois da coisa feita.
Frases demasiado boas para existirem IV
at 15:50 Labels: { Frases demasiado boas para existirem } {0 comments}
“Que, em parte, os acordes perfeitos dos mortos e os anjos e o sangue são peixe tatuado na tua anca ou em qualquer parte do corpo de uma mulher, qualquer mulher para ser sincero.”
Mafalda Ivo Cruz, Oz, D. Quixote, pag. 19
Desabafo mental (VII)
sexta-feira, agosto 04, 2006 at 22:58 Labels: { Desabafo mental } {0 comments}
FDX!
Nicole
quinta-feira, agosto 03, 2006 at 15:51 Labels: { Ironias } {0 comments}
 Os homens, na sua generalidade, avaliam as mulheres num binómio físico-intelectual que começa no físico e acaba no intelectual (as mulheres idem idem). No que diz respeito a celebridades, como quanto ao intelectual ficam apenas sinais, a ideia do físico ganha ainda maior peso. Mais: existe uma tendência, normal e compreensível, de fantasiar com celebridades. Olhamos para elas como seres bizarros, dizemos, quando as vemos na rua, que são como toda a gente, mas detemo-nos a ter opinião. E se um homem forma opinião sobre o rabo de uma mulher anónima em instantes (variáveis, dependendo da estação do ano), com muito maior legitimidade e capacidade forma opinião sobre o delicado traseiro de uma mulher celebridade: ora ele aparece em filmes, cartazes, publicidade, televisão, ou seja, todos os media à disposição de Satanás (ele mesmo). A maior parte dos homens, especulo eu, pensa "aqui está uma gaja boa" ou "se todas fossem assim..." com enorme naturalidade mas, e aqui a porca, se não transformada em toucinho, torce o rabo (senão estica-o), fá-lo (do verbo fazer e não de natureza fálica) em quantidade. Ou seja, o sangue aflui em generosas quantidades à periferia da sua existência e, digo eu, o homem comum diz "aqui está uma gaja boa" sobre praticamente qualquer gaja que faça um anúncio da Garnier. Como gosto de ser diferente, não entro na mesma onda. Veja o caso da Eva Longoria. Ok, tem umas pernas jeitosinhas, mas é minorca, praticamente não tem peito e entra na categoria, por pouco mas entra, das mulheres-miniatura (eu depois posto sobre estas). Porém, anda aí na rua o Zé a dizer que, meu deus, pára tudo, movam-se as pedras da calçada que a tipa é um monumento. Não é (e pronto, agora já sabem). Para acrescentar a isto, não sou gajo de me fazer a celebridades sentado no sofá. Gosto mais de mulheres personalizadas (e não costumizadas, atenção). Ou seja, sei reconhecer uma gaja boa (a testosterona é uma ferramenta fundamental, quem tem tem) mas não meto wallpapers no laptop com a Soraia Chaves nem compro a Maxmen para ver a Pimpinha em show lésbico com a progenitora. Há, porém, duas ou três excelentíssimas senhoras que me tiram do sério. Isabelle Huppert e Juliette Binoche, porque incorporam o tipo de beleza à qual as minhas sinapses apontam. Et voilá, a Nicole. Ora, é por demais indiscritível o efeito da Nicole. Há ali qualquer coisa que eu não sei explicar. Não, não vou ver um filme só porque a criatura participa no dito, mas a senhora convoca-me todas as energias psico-sexuais e paranormais que é possível (só acompanhada pela mulher que me atura as manias). A rapariga existe, e isso basta. Veja-se, agora, que anda a incorporar em Diane Arbus. Teremos, em Fur, o espécimen Nicole na pele do espécimen Diane. O estético em apologia de perfeição, que tanto mostra quanto existe para mostrar. E para mostrar o bizarro, o ponto de fuga, o disforme, o marginal, o lugar de imagem do bizarro. O filme tem estreia marcada para 10 de Novembro nos EUA, e até pode ser um desastre (a avaliar pelo realizador é bem provável) mas no seu potencial é já o melhor filme to be made do ano. Paranormalmente falando.
Os homens, na sua generalidade, avaliam as mulheres num binómio físico-intelectual que começa no físico e acaba no intelectual (as mulheres idem idem). No que diz respeito a celebridades, como quanto ao intelectual ficam apenas sinais, a ideia do físico ganha ainda maior peso. Mais: existe uma tendência, normal e compreensível, de fantasiar com celebridades. Olhamos para elas como seres bizarros, dizemos, quando as vemos na rua, que são como toda a gente, mas detemo-nos a ter opinião. E se um homem forma opinião sobre o rabo de uma mulher anónima em instantes (variáveis, dependendo da estação do ano), com muito maior legitimidade e capacidade forma opinião sobre o delicado traseiro de uma mulher celebridade: ora ele aparece em filmes, cartazes, publicidade, televisão, ou seja, todos os media à disposição de Satanás (ele mesmo). A maior parte dos homens, especulo eu, pensa "aqui está uma gaja boa" ou "se todas fossem assim..." com enorme naturalidade mas, e aqui a porca, se não transformada em toucinho, torce o rabo (senão estica-o), fá-lo (do verbo fazer e não de natureza fálica) em quantidade. Ou seja, o sangue aflui em generosas quantidades à periferia da sua existência e, digo eu, o homem comum diz "aqui está uma gaja boa" sobre praticamente qualquer gaja que faça um anúncio da Garnier. Como gosto de ser diferente, não entro na mesma onda. Veja o caso da Eva Longoria. Ok, tem umas pernas jeitosinhas, mas é minorca, praticamente não tem peito e entra na categoria, por pouco mas entra, das mulheres-miniatura (eu depois posto sobre estas). Porém, anda aí na rua o Zé a dizer que, meu deus, pára tudo, movam-se as pedras da calçada que a tipa é um monumento. Não é (e pronto, agora já sabem). Para acrescentar a isto, não sou gajo de me fazer a celebridades sentado no sofá. Gosto mais de mulheres personalizadas (e não costumizadas, atenção). Ou seja, sei reconhecer uma gaja boa (a testosterona é uma ferramenta fundamental, quem tem tem) mas não meto wallpapers no laptop com a Soraia Chaves nem compro a Maxmen para ver a Pimpinha em show lésbico com a progenitora. Há, porém, duas ou três excelentíssimas senhoras que me tiram do sério. Isabelle Huppert e Juliette Binoche, porque incorporam o tipo de beleza à qual as minhas sinapses apontam. Et voilá, a Nicole. Ora, é por demais indiscritível o efeito da Nicole. Há ali qualquer coisa que eu não sei explicar. Não, não vou ver um filme só porque a criatura participa no dito, mas a senhora convoca-me todas as energias psico-sexuais e paranormais que é possível (só acompanhada pela mulher que me atura as manias). A rapariga existe, e isso basta. Veja-se, agora, que anda a incorporar em Diane Arbus. Teremos, em Fur, o espécimen Nicole na pele do espécimen Diane. O estético em apologia de perfeição, que tanto mostra quanto existe para mostrar. E para mostrar o bizarro, o ponto de fuga, o disforme, o marginal, o lugar de imagem do bizarro. O filme tem estreia marcada para 10 de Novembro nos EUA, e até pode ser um desastre (a avaliar pelo realizador é bem provável) mas no seu potencial é já o melhor filme to be made do ano. Paranormalmente falando.
Perfil
Instauração Convexa dos Inversos
In english
Labels
- A verdade é que (6)
- Alguém veio aqui parar pesquisando (16)
- Anima-dinner (5)
- Arte (11)
- Cinema (179)
- Dança (16)
- Das mulheres (5)
- Desabafo mental (11)
- docLisboa2008 (8)
- Em revista (1)
- Faces (des)conhecidas da humanidade (2)
- Fantasias (1)
- Festa do Cinema Francês 2008 (6)
- Fotografia (34)
- Frases demasiado boas para existirem (6)
- Gastronomia (2)
- Hora do Monstro (3)
- Imagens de filmes (3)
- Imagens do demo (10)
- Imprensa (2)
- IndieLisboa2008 (20)
- Ironias (137)
- Literatura (31)
- Livro dos Regressos (18)
- Motelx 2008 (11)
- Mulheres levadas da breca (14)
- Música (79)
- Música de domingo (15)
- Natal (24)
- Notícias da barra (12)
- O Animatógrafo pergunta (12)
- Objectos Felizes (3)
- Oscares 2008 (1)
- Outras guerras (13)
- Política (95)
- Provérbios bizarros (5)
- Teatro (6)
- Televisão (23)
- Vénia do Dia (12)
- Viagem (30)
- Viagem ao passado recente (5)
- Vidas difíceis (14)