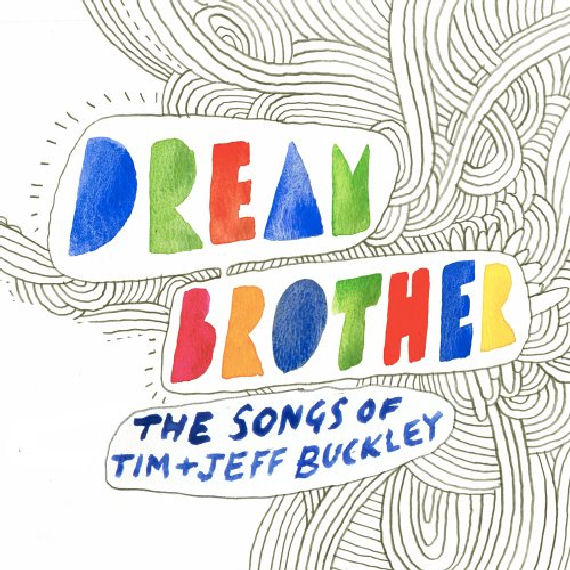
Vários, Dream Brother: The Songs of Tim + Jeff Buckley
Oiçam
domingo, fevereiro 26, 2006 at 22:46 Labels: { Música } {0 comments}
El Cielo Gira (*****)
at 17:30 Labels: { Cinema } {0 comments}
Sobre El Cielo Gira, documentário de Mercedes Alvarez que estreou esta semana no circuito comercial, escrevi quando da sua passagem pelo docLisboa 2005. O texto pode ser lido aqui. O filme no cinema King, em Lisboa. Antes que evapore.
Mark Fiore
sexta-feira, fevereiro 24, 2006 at 20:36 Labels: { Notícias da barra } {0 comments}
A Village Voice, esse paladino do bom gosto e jornalismo de qualidade em quantidade, tem cartoons muito bons. Mas os melhores são claramente os de Mark Fiore. Porque são animados. Porque são corrosivos. Porque são políticos. Porque saem da revista para o espaço da internet enquanto imagens dotadas de som e movimento, mas não são desenhos animados no verdadeiro sentido. São mesmo cartoons animados. Um género jornalístico que, tanto quanto sei, não existe nem em televisão nem noutro meio clássico. Têm um bocadinho de Contra-Informação, um bocadinho de Bartoon, um bocadinho de Inimigo Público, um bocadinho de coluna de opinião, uns pós de outras tantas coisas. A descobrir no site do próprio Mark Fiore, com um lançamento semanal, aqui (e a partir de agora também na barra da direita, na secção de Links).
O Animatógrafo pergunta XI
at 20:32 Labels: { O Animatógrafo pergunta } {0 comments}
Como é que um sem-abrigo é travesti? E quem é que se chama Gisberto??
Livros
at 10:29 Labels: { Literatura } {0 comments}
A maior e principal falha do Animatógrafo, enquanto blog, tem sido esquecer-se por completo de livros. Primeiro porque são objectos culturais que merecem a mesma atenção que os filmes, exposições, concertos ou espectáculos de que se fala aqui. Segundo porque dá ideia que o Animatógrafo não lê, o que é mentira. Terceiro, porque dá ideia que o Animatógrafo não dá grande importância aos livros, o que também é mentira. É preciso assumir que, desde que o blog existe, não li muito, isso é verdade. Sobretudo porque estive meses agarrado a Koba, the Dread (que também já existe traduzido), sem conseguir avançar da forma que desejava. O livro de Martin Amis é profundamente pesado, sobretudo pela temática e pelo nível de investigação que o autor levou a cabo. Em meia dúzia de páginas os horrores são de tal calibre que a vontade de ler cem páginas de uma vez é, confesso, pouca. Mas o livro é soberbo, e, como em quase todos os casos, aconselha-se a leitura da versão original (não li a tradução, mas acredito que se perca muito do tom de Amis). O inglês consegue conciliar a descrição do seu relacionamento com o seu próprio pai, e a descrição do processo de aproximação ao regime comunista, com um manancial de factos sobre Estaline que só estavam publicados em meia dúzia de obras de difícil acesso. Muito para além de Koba (Estaline), o livro acaba por tirar uma enorme fotografia ao regime, na medida em que o líder se confundiu com o mesmo. E simultaneamente Amis defende a teoria de que o Estalinismo foi bem pior, em termos de vidas perdidas e nível de atrocidade, que o Nazismo. Mas para Amis este facto foi escamoteado do ponto de vista histórico por existir, como no seu pai, uma propensão da classe intelectual em favor dos regimes comunistas. Toda a argumentação de Amis é perfeitamente estruturada, o que faz de Koba, the Dread um excelente documento, a ter em conta de forma efectiva na sua proposta. Além disso, distancia-se claramente do género científico ou histórico e tem muito do próprio Amis, o que, do ponto de vista do texto, é a pedra de toque. Assim, Koba ocupou-me grande parte de 2005. O resto ficou em Vermelho, de Mafalda Ivo Cruz. A capa da D. Quixote é má, e o próprio nome da autora inclina quem olha para o livro numa prateleira da FNAC para o lado dos livros sem gordura. Nada mais errado. Aliás, só cheguei a Mafalda Ivo Cruz por António Lobo Antunes, que acredita na senhora como uma das promessas das letras cá do burgo. O premiado Vermelho é, comprova-se, um livro maior. Romance a piscar o olho ao fragmentário e onírico (qual Lobo Antunes, na parte fragmentária), o texto de Ivo Cruz tem um começo reticente mas arranca depois para uma prosa que vai buscar a sua estrutura às memórias fragmentadas e deturpadas de um dos personagens. Com uma prosa pouco ou nada constrangida por questões estilísticas, Mafalda Ivo Cruz constroi um livro "mental", com pouco situacionismo temporal, mas com raízes na percepção mental do tempo e dos acontecimentos que o marcam. Como em Lobo Antunes, resulta um texto que não apela à racionalização factual mas antes à percepção de imagens ou sensações globais. Já em 2006, despachou-se um dos grandes livros do ano passado em quinze dias. Bilhete de Identidade, de Maria Filomena Mónica, vale sobretudo pelo esforço e pelo tom, nem tanto pelos factos. Primeiro que nada, declaração de interesses: eu considero Filomena Mónica um dos cérebros mais louváveis e ao mesmo tempo mais subavaliados aqui do rectângulo. E já tinha esta opinião muito antes de qualquer livro, creio que desde que a senhora teve a coragem de dizer uma verdade mal compreendida: fazem falta elites em Portugal. Ora, o livro é, primeiro que tudo, uma pedrada no charco em termos de projecto. A tradição memorialística em Portugal é nula, se exceptuarmos grandes estopadas que os políticos fazem publicar com charadas sobre o seu percurso político-partidário. Mas memórias no sentido pessoal do termo, nem vê-las. E o que deve motivar na produção e leitura das mesmas não deve ser o paradigma "cusco" dos portugueses, mas antes uma curiosidade sobre o percurso de vida de determinada pessoa. Ora, o livro de Filomena Mónica cumpre por completo os objectivos a que se determina (relatar a sua vida até 1975), mas extravasa-os na medida em que faz um retrato de Portugal (e não só) durante esse período. E porquê? Porque as memórias de alguém, pelo menos as que interessam, são as que estão ligadas à sua vivência num espaço e tempo específicos (e aqui está possivelmente a explicação da ausência de livros semelhantes em Portugal, poucos têm o nível de sensibilidade para se lembrar de factos de determinada forma...). Ou seja, Filomena Mónica não consegue falar da sua infância sem falar dos espaços que percorria, das normas que lhe impunham, das imagens que lhe ficaram, das pessoas com quem contactou. Não é uma biografia virada para o umbigo, é antes um olhar da sua vida enquanto cidadã de uma sociedade e país que tiveram determinada história. Para além disto, o próprio percurso da autora é por demais interessante, na medida em que sempre teve contacto com figuras e espaços que se revelaram próximos do Estado Novo ou, então, que se viriam a revelar marcantes na sociedade portuguesa pós-25 de Abril. Filomena Mónica acaba, assim, por biografar um conjunto de personalidades, mesmo que em regime curto. Do ponto de vista formal, o texto é naturalmente frontal, não se notando esforço em sê-lo. Detem-se tanto no pequeno pormenor como nas grandes ideias, sem deixar fugir o pé dos factos e extrapolar para interpretações exageradas de ambientes. Simultaneamente, consegue manter o centralismo na sua pessoa e apropriar-se de todos os factos extra apenas na medida em que servem para dar consistência à descrição do seu percurso ou ilustrar determinado acontecimento. Neste equilíbrio raro, Bilhete de Identidade é obrigatório.
Oiçam
terça-feira, fevereiro 21, 2006 at 23:02 Labels: { Música } {0 comments}

Placebo, Meds (nas lojas a 13 Março 2006)
Sufjan Stevens Live
domingo, fevereiro 19, 2006 at 22:02 Labels: { Música } {0 comments}
Ora, ora: é por demais público que "Illinois", de Sufjan Stevens, foi um dos grandes albuns de 2005. Ok, apanhou a onda new folk quando a espuma estava mesmo no ponto, mas isso não retira mérito ao segundo trabalho de Stevens sobre os Estados Unidos, eles mesmos. O primeiro estado a ser alvo de trenga lenga melódica tinha sido Michigan, mas não deu muito nas vistas. Já Illinois produziu um disco soberbo, que tem tanto de originalidade (no aproveitamento melódico do folk do próprio estado) como de qualidade (no tratamento que o amigo Stevens deu ao material que recolheu). Infelizmente tenho as minhas sérias dúvidas que o jovem Sufjan, nascido em Detroit e autor de omoletes lendárias, venha tão depressa a Portugal. E vai daí, encontrei na extraordinária invenção que é esta coisa da internet um concerto ao vivo, dado em Denver a 29 de Julho do ano passado, mais concretamente no Bluebird Theatre. Para melómanos (termo curioso este) ou para quem simplesmente não conhece o senhor (ó heresia!), aqui ficam os 17 temas daquela noite...
1. "The 50 States Song"
2. "The Tallest Man, The Broadest Shoulders"
3. "Prarie Fire That Wanders About"
4. "They Are Night Zombies!! They Are Neighbors!! They Have Come Back From The Dead!! Ahhhh!"
5. "Sister"
6. "John Wayne Gacy, ,Jr."
7. "Casimir Pulaski Day"
8. "Jacksonville Cheer"
9. "Jacksonville"
10. "The Predatory Wasp of the Palisades is Out to Get Us!"
11. "Chicago Cheer"
12. "Chicago"
13. "Come On! Feel the Illinoise!!"
14. "Metropolis Cheer"
15. "The Man of Metropolis Steals Our Hearts"
16. "The Star Spangled Banner"
17. "A Good Man is Hard to Find"
Já agora, para quem quiser saber mais sobre o tipo, veja um excelente texto aqui. Não consegui saber qual o próximo estado a ser alvo da fúria criativa de Sufjan, se alguém souber que avance...
BES Photo 2005
sexta-feira, fevereiro 17, 2006 at 12:37 Labels: { Fotografia } {0 comments}
NOTA PRÉVIA: mais um post comprido, recomendado para as senhoras que consideram que o tamanho importa e para almas temporalmente espreguiçadas.
Fui ver BES Photo 2005 há umas duas semanas, antes de se saber quem era o premiado. E dos quatro, e isto pode parecer duvidoso dizer agora, o trabalho de José Luís Neto é, efectivamente, o melhor. Dos quatro fotógrafos a concurso, dois pareceram-me muito maus e os outros dois muito bons, pelo menos a avaliar pelas imagens expostas no CCB (que lá ficam até 5 de Março). Primeiro, os maus. António Júlio Duarte tem meia dúzia de fotografias inócuas, a piscar o olho à tendência freak da noite, como se bastasse apontar a lente a table dancers. Aliás, as fotos são de tal forma desprovidas de conteúdo que nem se compreende qualquer intenção, mesmo que fosse chocar. Não têm dimensão estética, não criam qualquer ambiente, reduzem-se a existir (mais valia não existirem mesmo). Não é Duane Michaels ou Diane Arbus quem quer. Por outro lado, Paulo Catrica tem no CCB imagens de paisagem e arquitectura industrial perfeitamente banais. Lá está, são raros os casos em que edifícios ou paisagens urbanas têm uma dimensão estética imanente, que não tenha que ser construída pelo olhar do fotógrafo (senão éramos todos grandes Cartier-Bresson). O olhar de Catrica é praticamente nulo. Ainda assim, compreende-se uma intenção de captar ou criar um espaço estético para além do objecto representado, mas perfeitamente por cumprir. Do lado bom, temos então José Maçãs de Carvalho e o premiado José Luís Neto. Maçãs apresenta a democracia das imagens, trabalho dividido entre um vídeo, uma montagem vídeo de fotografias e fotografias de oferta. O vídeo tem uma actriz, jovem, sob um fundo preto, que por gestos diz "as imagens são as palavras dos analfabetos". Os gestos começam como uma linguagem organizada (linguagem gestual) e evoluem para algo mais caótico, acompanhado por uma atitude mais agressiva da actriz, sendo que são três as formas de apresentação da frase. Para além do óbvio que a frase em causa transporta, o vídeo é interessante na medida em que se serve de um dispositivo imagético para querer afirmar algo consubstanciado em texto. Mais: quer impor, através da agressividade emprestada, uma noção de democraticidade "das imagens", paradoxo. Para além disso, reforça a transformação do gesto em imagem e obriga a uma participação do espectador, na medida em que o vídeo não tem som e obriga a uma interpretação de gestos e leitura de lábios. Mais à frente, a montagem vídeo de fotografias contém imagens fortes, com duas por plano, um após outro. As duas imagens são montadas horizontalmente uma sobre a outra, de forma a comunicar reciprocamente, quer formal quer substantivamente. Para além disso, cada plano comunica necessariamente com o anterior, obrigando uma vez mais o espectador a um duplo trabalho de construcção de sentidos sobre as imagens, que vai para além da análise da imagem isoladamente. Ao lado, em caixas de cartão, o autor oferece cópias de algumas dessas imagens, devidamente emolduradas. O espectador é convidado a levar uma consigo. Maçãs leva a questão da democracia ao ponto limite, retiranto à fotografia a sua dimensão de arte e inserindo-a no plano do objecto transportável e oferecido a qualquer um, além de obrigar a um desvio de olhar por parte do visitante. Este é compelido a deixar de ver a fotografia enquanto criação artística de alguém com um estatuto diferente do seu, para passar a vê-la como objecto emoldurado e oferecido por alguém no mesmo plano do seu. Ao equilibrar os planos e retirar as imagens da parede, tornando-as transmissíveis e transportáveis, Maçãs marca uma posição final sobre a questão da Democracia da Imagem, e fá-lo não através da simplificação estética (as imagens não têm nada de fáceis) mas através da manipulação das formas de apresentação do dispositivo e do equilíbrio de estatutos entre fotógrafo e espectador. O vencedor do BES Photo, José Luís Neto, aposta noutro tipo de abordagem radicalmente diferente mas com pontos de contacto. O trabalho de Neto exposto no CCB divide-se em três partes: as séries Irgendwo, 322475 e fur Claudia. Esta última não me motivou grande impacto, sinceramente. O fotógrafo trabalha sobre a eterna questão da folha em branco, tentando partir para a abordagem da questão da passagem do tempo. Já em 322475 a questão é mais interessante. Neto parte de um pequeno negativo original de Joshua Benoliel, feito em 1913 e pertencente ao Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, para criar enormes ampliações. As imagens originais eram de presos políticos da Penitenciária de Lisboa, o resultado são traços a preto e branco do que já foram faces, como que personalidades atrás de vidro martelado. Se do ponto de vista estético as imagens são positivamente interessantes, do ponto de vista de proposta teórica ficam aquém da mera manipulação do dispositivo fotográfico, ou antes apelam a um nível de especulação exagerado por parte do espectador. Irgendwo é, assim, o melhor conjunto de fotografias da BES Photo 2005. Na parede, as fotografias não são maiores do que o tamanho de uma unha, inteligentemente emolduradas em formato maior (ou seja, com uma consideravel área branca à volta da fotografia em si). Do ponto de vista do objecto representado, na esmagadora maioria não se percebe. Mas este trabalho tem vários focos de interesse. Senão vejamos. Primeiro, Neto, do ponto de vista global, aborda a imagem na sua possibilidade de desnivelamento de escala, ampliando (em 322475) ou reduzindo (em Irgendwo) aos limites a imagem original. Cria, assim, uma dimensão imagética que nada tem a ver com o original, mas que também não parte da sua manipulação estética, objectivamente falando. Ou seja, as imagens são meramente ampliadas ou reduzidas, não transformadas. O que quer dizer que o objecto fotografado está lá da mesma forma em que foi captado. Isto faz com que o autor retire à fotografia a sua dimensão referencial e explore o seu potencial imagético real. E fá-lo da forma mais original e difícil, não mexendo na imagem em si mas no seu tamanho, servindo-se da forma e não do conteúdo. Segundo, o espectador é, naturalmente, obrigado a invadir o espaço do objecto fotografado. Ou a tentar. Em imagens do tamanho de uma unha, o primeiro impulso, e natural, é querer compreender o que lá está, o que é aquilo. E na prática, muitas vezes acaba por percepcionar o que lá está, de forma vaga. O que faz com que construa para si uma representação do fotografado. Eu não vi o que lá está, eu penso que vi. Ou vi o que quiz ver. Esta separação entre o objecto fotografado e a sua percepção pelo espectador é motivada pela manipulação do tamanho levada a cabo pelo fotógrafo. Terceiro, Neto aproveita sempre imagens de arquivo, cuja dimensão estética ou artística é ausente. E portanto, ao modificar o seu modo de apresentação, e com isso inseri-las numa dimensão artística, está a reinventar as possibilidades da fotografia enquanto arquivo, para além de estar a revelar a potencialidade imagética que esse arquivo tinha mas que estava oculto. Tudo isto é bem mais que suficiente para o BES Photo 2005 ter um vencedor justo.
Facto histórico indiscutível de sexta-feira de manhã
at 12:36 Labels: { Ironias } {0 comments}
Não há pachorra para cerimónias de trasladação.
Getting up to date
domingo, fevereiro 12, 2006 at 14:24 Labels: { Ironias } {1 comments}
NOTA PRÉVIA: Este post, que tem pilhas de interesse, é longo e só é prescrito a mentes com bastante tempo e pachorra.
Aquela história de que já não se inventa nada é mentira. A sério. Ainda não se inventou, por exemplo, algo que seria de extrema utilidade: um backoffice mental de blog. Um gajo ia na rua e pensava “vou postar” e ia desfiando mentalmente o texto, que por sinapses wireless surgia no blog. Isto sim era avanço! Mas não, ainda nenhum cromo pensou nisto (malta do Técnico, toca a carburar!). Nas últimas semanas, se existisse semelhante dispositivo, tinha sido tudo muito mais fácil. Eu não teria ficado com mil e uma coisas para postar, muitas das quais me esqueço quando me sento aqui. E portanto, como as dores de cabeça se começam a agudizar por tanta concentração de post imaginário, este vai servir para vomitar tudo. Ou quase. Portanto:
A história dos cartoons de Maomé é sintomática do estado mundial a que chegámos. Por acaso antecipei-me ligeiramente às pedradas no Médio Oriente e meti aqui o mais grave, o do profeta com a bomba na carola, pouco depois da vagina da Europa de tanguinha (ou a tanguinha da Europa de vagina?) E o blog até ficou bem decorado, não foi? Porque, se bem que não é a mesma coisa, as reacções às duas expressões plásticas foram sintomáticas de duas formas de estar. Vamos lá a ver: ok, nem todos os seguidores do Islão andam à pedrada. Ok, não se pode confundir Islão com violência. Pera aí, não? O meu conhecimento da religião em si é parco, e por isso não me vou alongar por aí. Mas ainda assim há coisas que penso que sei. Penso que sei que as sociedades teocráticas, a esmagadora maioria islâmicas, estão assentes em dispositivos de violência extrema. Penso que sei que os líderes religiosos que controlam essas mesmas sociedades acreditam na violência, sob várias formas, como extensão da vivência religiosa. Penso que sei que essas mesmas sociedades teocráticas não têm ideais democráticos e de liberdade minimamente instalados e que, como tal, são invariavelmente menos tolerantes à interpretação, seja satírica, artística ou outra, das suas referências globais. Estou eu a dizer com isto que a Europa e o mundo ocidentalizado tem sociedades mais evoluídas? Sim, estou. Não me venham com a história do “diferente”. Pois sim, somos diferentes, em muitas questões há no mundo quem viva como na Idade Média. Been there, done that. Estar a pedir desculpas a sociedades civilizacionalmente num estado de evolução mais primário é ridículo, mas próprio da velha Europa. A velha Europa que não consegue ultrapassar os estigmas do nazismo e evita todo e qualquer confronto, mesmo quando ele se impõe. Mesmo, aliás, quando a reacção do mundo islâmico é evidentemente orquestrada com motivações políticas fortes e concretas. Da mesma forma que a liberdade de imprensa acarreta responsabilidades, que estão definidas num conjunto de códigos e condutas, também a liberdade de protesto se enquadra num conjunto de procedimentos. O “direito à indignação” que conhecemos pela boca de Mário Soares por cá tem regras. Porque andar à pedrada e ao cocktail molotov contra edifícios e pessoas é barbárie, não é protesto. A velha Europa tem medo. E esse é o grande problema. Tem medo do Islão, tem medo que no mês que vem meia dúzia de esquizofrénicos façam rebentar umas centenas de franceses no metro de Paris e que seja acusada de ter acendido o rastilho. A barbárie parece que ganha com larga vantagem a meio do jogo. A velha Europa é aquele puto bucha caixa de óculos que leva pancada do rufia da escola e continua a pedir desculpas, sem saber porquê, apenas para ver se o rufia pára mais depressa. Desculpa por existir pah. Desculpa andar aqui nesta escola, não havia outra no bairro. Desculpa passar aqui no corredor onde tenho direito. Desculpa fazer um desenho a gozar contigo. Desculpa, desculpa. A velha Europa nunca mais cresce.
O homem tem, se as minhas informações estão correctas, 64 anos, ó pah! E anda há alguns a dizer que a PT tem direitos a mais, a PT não promove a concorrência, a PT beneficia de posição dominante com a cobertura do Estado, a PT viola leis e normas comunitárias, a PT é o papão. E vai daí fartou. E OPA. É óbvio que o valor oferecido por Belmiro de Azevedo por cada acção é relativamente baixo. E óbvio que a operação é para ganhar “à primeira volta”. E é obvio que acabaram os dias dourados da PT. Toda a gente sabia que a Telecom portuguesa tem uma posição de mercado que já não tem paralelo na Europa, quase nem sequer nos países de Leste que têm heranças de estatização muitíssimo mais fortes que a nossa. Agora dúvido que toda a gente soubesse que o Belmiro tinha tomates para tomar de assalto uma empresa que o transcende em dimensão em seis vezes. Ora, neste caso, como Coimbra, a OPA é uma lição. Primeiro, para gajos armados em parvos como eu que têm medo de arriscar investir meia dúzia de patacos para fazer qualquer coisa. O homem não se atira de cabeça, mas, como David, sabe onde Golias tem uma alergia e vai de atacar com um poderoso saco de ácaros da Birmânia (que são os piores). Segundo, porque obriga o Estado a mexer-se a acabar com a palhaçada que se mantém há muito no mercado de telecomunicações português, com um domínio à la Estaline, servido por uma Anacom comatosa. Terceiro, porque aos 64 anos continua a querer o mundo. Em vez de ficar em casa de pantufas e robe a ver o Preço Certo em Euros, levanta-se todos os dias a pensar em como ampliar aquele que já é o maior grupo económico português, como se não houvesse outra opção. Cá para mim a conclusão é bem simples: Belmiro de Azevedo não é português! Se Portugal fosse uma banda desenhada (já alguém se lembrou disto?), Belmiro seria o Ratazana Económica, um funcionário público mordido por uma ratazana estrangeira radioactiva que se transformou no pior pesadelo das empresas à la tuga, defendendo o mercado e o espírito empreendedor com a sua poderosa arma de fotões, a OPA. E reparem na ironia: é OFERTA Pública de Aquisição…Generosidade de super Belmiro.
Para escrever isto tive que ir ao Google e procurar por “casamento de lésbicas” porque não sabia o nome das senhoras. Ora, Lena e Teresa (é assim que os media as tratam, carinhosamente) são duas gajas com a mania de seguirem a Constituição à risca. Vai daí, como leram que o documento, que parece que é a lei primordial do nosso Estado, estabelece o princípio da igualdade, que proíbe qualquer discriminação com base na orientação sexual, querem casar-se. Só para chatear. Lena e Teresa limitam-se, em 2006, a dar visibilidade a um buraco do Código Civil que muito boa gente conhece há anos. Foi-me dito pela gaja que me atura que já na Faculdade de Direito há seis anos esta questão era usada em testes como exemplo de contradição entre um Código aprovado e em vigor e a Constituição. Ora, no meio disto tudo eu lembro-me de um senhor, bem simpático, chamado Bosman. Era tão bom jogador de futebol como eu sou investigador de células estaminais, mas ganhou uma mania chata na qual investiu. Dizia o senhor, nos idos de 90, que a livre circulação de pessoas e bens em vigor na União Europeia lhe dava o direito de se transferir para qualquer clube de futebol da Europa, e que esse mesmo clube não o podia dar como estrangeiro nas listas que entregasse à UEFA. E, chatice, isto era contrário às regras definidas pelo órgão máximo do futebol europeu. O senhor Bosman, fraquinho mas persistente jogador da bola, levou a coisa para os tribunais e ganhou. E hoje é raro o dia em que o Chelsea entra em campo com mais do que dois jogadores ingleses (Frank Lampard e John Terry, para ser mais preciso). A decisão do tribunal no caso Bosman alterou de forma profunda a organização das equipas de futebol na Europa e, consequentemente, toda a prática do desporto, com benefícios e perdas (que agora não são para aqui chamadas). Ora, voltando à Lena e à Teresa (até parece que as conhecemos, não é?), de forma básica parece-me que têm razão. E digo, aqui, do ponto de vista formal. E, se estou certo nas minhas especulações, acredito que as Constituições da esmagadora maioria dos países europeus devem ter uma frase catita que diz que não pode existir qualquer discriminação com base na orientação sexual (que nisto de Constituições toda a gente copia uns pelos outros). Portanto, se a Lena e a Teresa ganharem o direito a casar em Portugal, estará aberto o precedente. E teremos uma liga diferente por essa Europa fora. Digo eu. Pelo menos na Europa em que os políticos têm medo de afrontar a massa social retrógrada que ainda olha para os homosexuais pelo canto do olho. Massa essa que, salvo em dias de chuva, ainda vota. E vota nos mesmos políticos que aprovaram um código com artigos contrários à Constituição. É uma chatice, essa coisa da Constituição. Só gajas como a Lena e a Teresa, carinhosas, é que gostam.
Eu estive no Diário de Notícias alguns meses em 2001, apanhando o Verão e o 11 de Setembro. Em menos de uma semana percebi que o jornal tinha cadáveres que se arrastavam pelos corredores, quais fantasmas guardiões do espírito de imprensa, que não faziam mais do ocupar folhas de vencimento e escrever um mau texto aí uma vez por mês. Um deles, aliás, tinha (tem ainda?) o simpático hábito de se enfrascar forte e feio antes de chegar à redacção, tornando a vida de quase toda a gente um inferno com cheiro a alcool e tudo (mas como era amigo do então director…). De lá para cá, ficou-me o vício de ler o DN, por conhecer as pessoas, por conseguir ver para além das letras impressas, e porque, ainda assim, existiam e existem excelentes profissionais naquela casa. No entretanto, o DN mudou de linha gráfica várias vezes. De todas, o insucesso. De todas, a noção interna (pelo menos creio na redacção) que aquilo estava nas lonas. E eis que, depois de muitas mudanças de propriedade, direccção e outros cargos que tais, a coisa parece estabilizar. Roubou-se umas cabecinhas pensantes do concorrente das Picoas (o que é sempre bom sinal) e fez-se uma esfoliação. Acabou-se com o DNa (porra, até que enfim!). Pediu-se ao Henrique Cayate que pensasse na melhor forma de apresentar notícias e reportagens e o senhor deve ter respondido, como sempre, que o segredo está naquilo que o olho não vê. O resultado é um jornal limpo, arejado, moderno, atento às modificações do mundo (mais alguém tem aquela informação sobre blogues?), com gente que pensa (Ana Sá Lopes, apenas para um exemplo), reposicionado no seu segmento de mercado e pronto a perder aquela imagem de imprensa do século passado. Os suplementos, nomeadamente o de sexta-feira, são uma vitória de quem durante anos reclamou espaço para a Cultura, leitores e jornalistas. Está longe de ser perfeito, mas é um esforço em evolução. O suplemento diário de Economia é consciência evidente de um discurso político e social contaminado pela área nos últimos tempos, e para continuar. Basicamente, fica-se com a ideia que um dos jornais de referência não está a dormir, e isso é de saudar.
World Press Photo 2005
sexta-feira, fevereiro 10, 2006 at 13:08 Labels: { Fotografia } {0 comments}

Não, não foi esta imagem que ganhou desta vez. Mas devia ter ganho. Ou praticamente qualquer uma das outras premiadas. A fotografia vencedora é fraquinha. Ok, há fome no mundo, mas não se fotografou nada mais importante em 2005? Ou melhor, não se fotografou melhor que a cara de uma mãe com a mão de um filho sobre a boca? Pelos vistos não. Esta imagem é que devia ter ganho. Esta imagem, de Andrew Testa, ganhou o segundo prémio na categoria de General News: Singles. Esta imagem retrata o funeral das vítimas do massacre de Srebrenica. Foi tirada em Potocari, Bosnia, dia 11 de Julho (curiosamente o meu aniversário). E porque é que esta imagem devia ter ganho? Porque faz a síntese das duas dimensões que a fotografia deve, a meu ver, abraçar: a de dispositivo de representação e a de arte. Esta fotografia transcende em muito o objecto fotografado e cria uma imagem que de outra forma não existia. Esta fotografia é um potento de composição, ambiente, cor e ausência de cor, força. E tudo isto só reforça o objecto fotografado na sua dimensão real. E há fotografias muito boas nos premiados deste ano. Muito para além da que fará correr tinta nos jornais mundiais. Como a de Chris Hondros, com uma criança iraquiana cheia de sangue que chora a morte dos pais às mãos e à sombra, na noite, de um soldado norte-americano. Ou a de Rafiq Maqbool, com um sobrevivente do terramoto na Índia, invulgarmente parecido com Cristo, que espera ajuda prostrado. Ou a de Robert Knoth, com Natasha e Vadim, filhos de Chernobyl, a espreitar em direcções opostas. Julguem por vocês mesmos, aqui.
Imagens do demo VII
quinta-feira, fevereiro 09, 2006 at 13:48 Labels: { Imagens do demo } {0 comments}

Depeche Mode, Pavilhão Atlântico, 8 Fev.
at 12:38 Labels: { Música } {0 comments}
Chegámos a uma altura em que os concertos de grandes bandas, salvo raras excepções, já não são surpresas. O Público de ontem, por exemplo, dava o alinhamento e a atmosfera dos anteriores, que tudo indicava tinha condições para se repetir. E quando Martin Gore meteu os dedos na guitarra para abrir hostilidades com A Pain That I'm Used To, simulando a abertura do recente Playing the Angel, não havia grandes dúvidas. O concerto de ontem, ao fim de 12 anos de ausência de palcos nacionais e alguns de ausência de boa música, foi, acima de tudo, sólido. Primeiro, não é um concerto de promoção ao novo album. É sobretudo um evento antológico, que aproveita para inserir as novas músicas num alinhamento pejado de clássicos. E nessa prova os novos temas não reprovam. Não só a adesão do público a John the Revelator ou Suffer Well foi entusiasta e conhecedora, como as músicas "aguentam-se" melhor do que seria de esperar junto a temas que fizeram as vidas dos milhares que ontem enchiam o Atlântico, o que só diz da qualidade do novo álbum. O alinhamento, nesse sentido, é bem pensado, pontuando momentos de energia com descompressão, lançando temas mais conhecidos com novos, mantendo uma cadência sólida do ponto de vista sonoro e de gestão de energias, quer da banda quer do público. Segundo, o trabalho visual que suporta o concerto foi brilhante. Enganem-se aqueles que esperam grandes fogos de artifício ou capacidade de luz à semelhança de U2 ou Roling Stones. Não, os Depeche Mode, ainda que a viver um tempo de renascimento, optaram por uma estrutura menor em pompa, mas ainda assim não menor em qualidade. O palco tinha três mesas de ar galáctico, com uns buracos ocupados por luz, e a bateria. À esquerda uma bola gigante suspensa, com um pequeno ecrã de uma linha onde passaram palavras simbólicas. E atrás da banda uma área de tela que se foi revelando, como que composta por partes mais pequenas e fragmentadas. O trabalho de concepção partiu da ideia de revelação faseada, primeiro pareciam só três bocados com imagens a preto e branco, depois já cinco com cores e formas abstractas como filtro ao live feed que era a imagem de David Gahan ou, a vezes do público. Apoiados por uma estrutura de luzes complexa mas funcional, que soube criar um ambiente específico em cada tema, os três Depeche Mode, acompanhados por dois cúmplices, estiveram integrados num ambiente plástico que não cedeu ao facilitismo da imagem abstracta tout court, mas antes criou dimensões estéticas, utilizando ao máximo as potencialidades de uma área de projecção que não era, de todo, comum. Terceiro, parecem bem longe os tempos de overdose de Gahan e as turras com Gore. Este deu-se ao luxo de cantar Home em regime inicial discreto, arrancando a partir de meio o entusiasmo dos devotos. Gahan ainda se mexe como poucos e transporta em palco, no corpo, a triologia Sangue-Corpo-Amor que os move quase desde sempre. Em Enjoy the Silence o Atlântico cantava em uníssono. Em Personal Jesus toda a gente queria reach out and touch faith. Nos momentos em que Gahan achava que a coisa está a ficar morna, apontava microfone e dedicava uns segundos de atenção a uma bancada ou outra, levando à histeria muito boa gente e recuperando o momentum. No fim, Gahan e Gore foram Goodnight Lovers numa extensão do palco, à frente, à sombra de uma luz inferior e com ar de história, abraçados, como se fosse preciso dizer mais alguma coisa.
Sociedade Antónia
segunda-feira, fevereiro 06, 2006 at 10:39 Labels: { Notícias da barra } {0 comments}
Ora, meus amigos, o Animatógrafo foi convidado, pela primeira vez, a colaborar com outro blog. Chama-se Sociedade Antónia e surgiu recentemente, creio, por instinto de Pavlov relativamente ao Sociedade Anónima. O primeiro é, assim, um blog de gajos sobre gajas, o segundo o inverso. O Animatógrafo declara que tentará explorar as vississitudes da diferença de géneros em todos os domínios que lhe ocorrerem, e que travará uma dura batalha para manter o nível acima do nível do mar (para não se morrer afogado). Os links para os dois blogs passarão a estar disponíveis aqui na barra da direita. Aceitam-se visitas.
Vidas Difíceis XI
domingo, fevereiro 05, 2006 at 14:15 Labels: { Vidas difíceis } {0 comments}
"Quando um dia for casada e tiver um filho, vou fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas".
José Rodrigues dos Santos, O Codex 632
Oiçam
at 13:28 Labels: { Música } {0 comments}

The Mountain Goats, The Sunset Tree
Faixa n.º 4, Dilaudid, aqui.
Le Verbe Être
sábado, fevereiro 04, 2006 at 21:02 Labels: { Literatura } {0 comments}
"Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Le désespoir n'a pas d'ailes, il ne se tient pas nécessairement à une table desservie sur une terrasse, le soir, au bord de la mer. C'est le désespoir et ce n'est pas le retour d'une quantité de petits faits comme des graines qui quittent à la nuit tombante un sillon pour un autre. Ce n'est pas la mousse sur une pierre ou le verre à boire. C'est un bateau criblé de neige, si vous voulez, comme les oiseaux qui tombent et leur sang n'a pas la moindre épaisseur. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Une forme très petite, délimitée par un bijou de cheveux. C'est le désespoir. Un collier de perles pour lequel on ne saurait trouver de fermoir et dont l'existence ne tient pas même à un fil, voilà le désespoir. Le reste, nous n'en parlons pas. Nous n'avons pas fini de deséspérer, si nous commençons. Moi je désespère de l'abat-jour vers quatre heures, je désespère de l'éventail vers minuit, je désespère de la cigarette des condamnés. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Le désespoir n'a pas de coeur, la main reste toujours au désespoir hors d'haleine, au désespoir dont les glaces ne nous disent jamais s'il est mort. Je vis de ce désespoir qui m'enchante. J'aime cette mouche bleue qui vole dans le ciel à l'heure où les étoiles chantonnent. Je connais dans ses grandes lignes le désespoir aux longs étonnements grêles, le désespoir de la fierté, le désespoir de la colère. Je me lève chaque jour comme tout le monde et je détends les bras sur un papier à fleurs, je ne me souviens de rien, et c'est toujours avec désespoir que je découvre les beaux arbres déracinés de la nuit. L'air de la chambre est beau comme des baguettes de tambour. Il fait un temps de temps. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. C'est comme le vent du rideau qui me tend la perche. A-t-on idée d'un désespoir pareil! Au feu! Ah! ils vont encore venir... Et les annonces de journal, et les réclames lumineuses le long du canal. Tas de sable, espèce de tas de sable! Dans ses grandes lignes le désespoir n'a pas d'importance. C'est une corvée d'arbres qui va encore faire une forêt, c'est une corvée d'étoiles qui va encore faire un jour de moins, c'est une corvée de jours de moins qui va encore faire ma vie".
André Breton
Match Point (****)
quinta-feira, fevereiro 02, 2006 at 12:25 Labels: { Cinema } {0 comments}
Preâmbulo: eu nunca fui grande fan de Woody Allen. Ok, guarda pretoriana, podem atacar. É daquelas coisas que não tem grande explicação, mas creio que o facto do senhor, himself, participar na esmagadora maioria dos seus filmes também não ajuda. Isto porque a personagem irrita-me profundamente e não me consigo concentrar no filme. E, portanto, a coisa complica-se. Mas estou a fazer um esforço para melhorar, a sério que estou. Os últimos já vi quase sem problemas. Ok, fiz umas caretas no início, mas depois passou e a senhora que se virou para trás pensou que era um tique nervoso. Dito isto, é compreensível que o facto de Match Point não conter Woody como actor participante ajudou muito à compra do bilhete. Ali, é o Woody realizador, e o Woody realizador é um gajo porreiro. Ora, vamos dizer isto abertamente: Match Point é um filme muito bom. Não é um filme histórico, nem uma obra prima, mas também não quer ser. Nem podia. Mas é muito bom. E é muito bom porquê? Por várias razões. Ponto número um: Woody enterrou o romantismo. O romantismo, por exemplo, de Hannah and Her Sisters. Woody olhou para o romantismo, achou que já tinha passado o prazo de validade, não quiz arriscar uma intoxicação cinematográfica e enterrou-o. Vivo, ainda por cima, para se aperceber da sua morte à medida em que asfixia. Match Point é profundamente anti-romântico e claramente pragmático. O que é uma lufada de ar fresco, para as urtigas com o romantismo de Nova Iorque no Outono. Ponto número dois: Woody deslocou por completo o seu modus operandi. O filme não se passa em Nova Iorque, mas em Londres. Os actores não são de perfil norte-americano, mas britânico. Não há judeus. Não há grandes famílias neuróticas. Aliás, não há neurose, a não ser na única personagem norte-americana e em alguns momentos. Não há dramas existênciais a partir de pequenos pormenores, há dramas existênciais a partir de grandes questões estruturais. O ambiente não é cool, mas european heavy. Denso. Operático. Aliás, uma das fortunas de Match Point é precisamente uma estrutura operática. Tudo encaixa na dimensão de uma ópera italiana. A banda sonora funciona como alicerce dessa estrutura, que seria impossível de adaptar nas ruas de Nova Iorque. O que se vê é uma Londres distinta sem ser bafienta, rica e opulenta sem ser profusa e VIP. Uma ópera, em que cada um sabe que o seu destino está traçado na partitura e é apenas uma questão de interpretar bem os dramas, sem excessos mas sem reticências, com olhares perdidos no objectivo. Ponto número três: as interpretações são imaculadas, a direcção de actores sem ponta de sangue. Woody é um cirugião. Vai pedindo bisturi, tesoura, compressa, e operando sem uma gota de suor na testa, como médico de carreira que sabe perfeitamente onde cortar e qual o risco. E, no meio de tudo, Woody assenta a história na ideia de sorte. A sorte que faz com que a bola, quando toca na tela, caia de um lado ou de outro da rede, e como essa escolha metafísica dos dois elementos - bola e tela - determina tudo o que pode ser determinado. Em Match Point, Woody Allen ganha com um Ás.
Facto histórico indiscutível de quinta-feira à tarde
at 12:24 Labels: { Ironias } {0 comments}
Hoje é Dia Mundial das Zonas Húmidas.
King Kong (****)
at 12:04 Labels: { Cinema } {0 comments}
Ora, Peter Jackson tinha uma tarefa monstruosa depois da trilogia Lord of the Rings: não se afundar. Depois de três filmes que ficam na história do cinema de entretenimento, qualquer coisa que viesse a seguir tinha, obrigatoriamente, que ser mais fraca. Esse era ponto assente. E portanto competia a Jackson apenas uma tarefa: não fazer algo que, à sombra da Terra Média, ficasse para as calendas como a sua evaporação (quiçá na Nova Zelândia, para manter o cenário). Neste ponto, Jackson foi de uma inteligência superior. A escolha de um remake de um filme da década de 30, cuja figura primordial foi banalizada durante as décadas seguintes, assegurava a recuperação óbvia de qualidade e, assim, o bote de salvação. Para mais, Jackson foi sublinhando durante muito tempo que o projecto surgiu em virtude do seu fascínio pelo filme original, que o que queria era recuperar os seus pressupostos originais, etc, etc. Portanto, quando comprei o bilhete para King Kong já sabia ao que ia. A competência de Jackson foi tão evidente em Lord of the Rings que Kong nunca podia ser um falhanço. Seria, na pior das hipóteses, um filme competente. E isso não é para todos. Ora, no fim de contas, King Kong é um filme competente, sim, mas mais do que isso. A ideia de recuperação do ambiente original, por parte de Jackson, é profundamente fiel. É por isso que os primeiros 10, 15 minutos parecem caricaturais, e depois se engrena no registo. A primeira vez que Jack Black abre a boca parece um boneco, à terceira já não. Basicamente Jackson diz "isto é um remake, não se esqueça, mas não é uma cópia". Ou seja, o barbudo fez um verdadeiro remake: não é um duplo, é uma nova visão, que tanto pode ser mais ou menos fiel ao original, mas não um seu pastiche. No caso, King Kong é fiel no que deve ser, no ambiente, na estrutura da história, na ligação entre personagens, na cadência de diálogos ou falta deles. E depois não é fiel no que não deve ser, nos efeitos especiais que transportam o filme para a actualidade, por exemplo. E ainda no meio disto, há surpresas. Adrien Brody, por quem não tenho especial afeição, porta-se muito bem. Jack Black tem um papel à sua medida (para quando algo fora do seu registo?) e não desperdiça. E Naomi Watts é, parece-me, surpreendente. Peter Jackson segura o filme no limite, não o deixando resvalar para a idiotice em momento algum. Tudo é contido onde deve ser. O relacionamento entre o macaco gigante e Ann Darrow não passa de troca de olhares. O estrago de Kong em Nova Iorque é por desorientação e não avidez de destruição, como erradamente a história do cinema tentou impor. Kong não é um oversised gorilla com a mania de matar tudo o que encontra, é apenas um oversised gorilla. E Jackson sempre o soube.
Who wants a piece of Old Muhammad?
quarta-feira, fevereiro 01, 2006 at 11:21 Labels: { Política } {0 comments}

Perfil
Instauração Convexa dos Inversos
In english
Labels
- A verdade é que (6)
- Alguém veio aqui parar pesquisando (16)
- Anima-dinner (5)
- Arte (11)
- Cinema (179)
- Dança (16)
- Das mulheres (5)
- Desabafo mental (11)
- docLisboa2008 (8)
- Em revista (1)
- Faces (des)conhecidas da humanidade (2)
- Fantasias (1)
- Festa do Cinema Francês 2008 (6)
- Fotografia (34)
- Frases demasiado boas para existirem (6)
- Gastronomia (2)
- Hora do Monstro (3)
- Imagens de filmes (3)
- Imagens do demo (10)
- Imprensa (2)
- IndieLisboa2008 (20)
- Ironias (137)
- Literatura (31)
- Livro dos Regressos (18)
- Motelx 2008 (11)
- Mulheres levadas da breca (14)
- Música (79)
- Música de domingo (15)
- Natal (24)
- Notícias da barra (12)
- O Animatógrafo pergunta (12)
- Objectos Felizes (3)
- Oscares 2008 (1)
- Outras guerras (13)
- Política (95)
- Provérbios bizarros (5)
- Teatro (6)
- Televisão (23)
- Vénia do Dia (12)
- Viagem (30)
- Viagem ao passado recente (5)
- Vidas difíceis (14)
Arquivo
-
▼
2006
(210)
-
▼
fevereiro
(25)
- Oiçam
- El Cielo Gira (*****)
- Mark Fiore
- O Animatógrafo pergunta XI
- David J. Nightingale
- Livros
- Oiçam
- Sufjan Stevens Live
- Exma. Sr.ª Ministra da Cultura
- BES Photo 2005
- Facto histórico indiscutível de sexta-feira de manhã
- Oiçam
- Getting up to date
- World Press Photo 2005
- Imagens do demo VII
- Depeche Mode, Pavilhão Atlântico, 8 Fev.
- Estou em estágio
- Sociedade Antónia
- Vidas Difíceis XI
- Oiçam
- Le Verbe Être
- Match Point (****)
- Facto histórico indiscutível de quinta-feira à tarde
- King Kong (****)
- Who wants a piece of Old Muhammad?
-
▼
fevereiro
(25)







